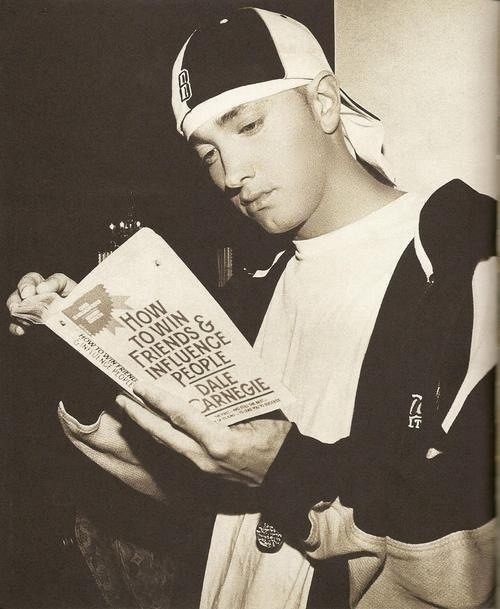Esses dias, fui a São Paulo fazer várias coisas burocráticas
chatas e de repente eu estava num bar e de repente eu estava já em outro bar e
de repente eu estava andando na Paulista de madrugada com uma mochila enorme
nas costas e de repente eu estava no karaokê, nostálgica do lugar da onde eu
tinha acabado de sair, e de repente eu estava na rua, sozinha, às 4 da manhã,
sem ter um lugar pra ficar. Minha experiência morando em SP, apesar de tantos
momentos felizes, foi a de um abandono quintessencial. Talvez porque a minha
primeira vizinha tenha dito que eu era uma “filha sem mãe” e suspeitava que eu
tinha cagado no capacho dela (ainda consigo me lembrar da sua voz dizendo “isso
é cocô humano”, enquanto eu tentava colocar algum juízo na cabeça dela); ou
então porque minha segunda vizinha tenha me denunciado para a síndica por solicitação;
ou porque eu nunca consegui assimilar realmente a experiência que eu estava
tendo, finalmente conhecendo o mundo de verdade. São Paulo, pra mim, é um
monstro do bem, tipo aqueles do “Where
the wild things are”. Mau hálito, barango, assustador, sem limites, divertido. (Ou, para usar a definição de Leandro Rafael Perez, "O pó que nos une é bem mais o da poeira do que o da morte, tu sabe, tudo são monstros" [PEREZ, Leandro Rafael. "Uma leitura levemente acompanhada". Posfácio a PIEROTTI, Marcelo. Domingo no Matadouro. São Paulo: Editora Patuá, 2013.]. De repente, o que assusta é essa intimidade forçada do metrô lotado de encoxadores, que demonstra que todos somos feitos da mesma matéria. Ou ler na plaquinha do ônibus que a lotação máxima são 13 pessoas sentadas e 30 em pé. Aham, com certeza.)
Talvez não seja esta a proposta principal de Gravando, de Aline Rocha, mas seus
poemas capturam essa essência paulistana. Note-se a alegria pueril de “About”,
da chuva que cai e não sabemos
da bomba-relógio circular
do drops ardendo a garganta
das voltas que o mundo dá
da billie rouca no ipod
da máquina de refrigerante
formado de versos eneassílabos, imitando as rimas que
ensinamos para as crianças. A chuva, o drops (jovem guarda?), a máquina de
refrigerante, etc. formam um conjunto harmônico e fofinho – carismático, eu
diria – só para romper-se no final. O poema, sem sermão, nos deixa sozinhos,
como uma mãe que embala o filho e o entrega pra assistente social,
despedindo-se com alguma fórmula batida, tipo “preciso cuidar de mim para poder
cuidar de você”. Os dois últimos versos são “de dentro do vagão me despeço/de
você na escada rolante”. Adeus, é isso. O poema acaba porque não há
possibilidade de reconciliação: o metrô foi embora, nem consigo te ver se
afastando no meio de tantas pessoas, mas imagino você subindo pela escada
rolante (infinita) cheia de gente a qualquer hora do dia. São Paulo, tem que
ser São Paulo, essa mãe sem dó no coração, que no entanto é a única pessoa que
te ama de verdade. Só em SP, cai a chuva e você nem sabe, porque experimenta a
cidade com os fones de ouvido enterrados nos canais auriculares, ali mesmo mas
alheio a tudo que se passa, só interagindo com o absolutamente essencial. SP:
bomba relógio circular (como a radial leste e a radial oeste, como as marginais
que imprensam a cidade pra dentro do ovo de onde nasceu, como o rio Tietê,
retificado à toa, mostrando os limites civilizatórios, o nosso celebrado Rubicão).
E sei lá, Aline, de repente você nem teve a intenção, mas esse poema são os
amantes que deixamos na estação – antes de termos o celular roubado e perdermos
o número deles para sempre. São “as voltas que o mundo dá”, num dia do seu
lado, noutro dia completamente indiscernível da multidão. Essa estranha certeza
de que nunca vamos nos ver de novo.
SP é também aquela cidade que é tão-grande. Contemplar o seu
tamanho – talvez nem tanto o tamanho físico, mas a pretensão, a ambição, o
rápido amadurecimento relativo, a população crescente de leões-por-dia, sabe o
que é que eu tô falando? Olhar pra isso é quase imediatamente sufocar. É tanto que não dá nem pra reter na
memória, como a ansiedade da sua “arquivística” em reter o que leu na semana
passada. Gravando é também sobre essas
leituras para sempre perdidas, impossíveis de serem recobradas num universo
prolífico de símbolos.
Rasgar a página do livro recortar
a notícia do jornal
e guardar a posteridade pede
notícias que nunca darei
e acreditará em tantas outras
notícias que não foram guardadas
(“Rasgando”)
Talvez seja a primeira função da escrita: permanecer. Se
permanecer é significar, este eu-lírico está ansiando para que a sua
experiência, entre os jornais e as notícias, faça algum sentido, por isso age
febrilmente, rasgando e recortando, na esperança de singularizar um momento. (Lembrei
do eu-lírico do Rubén Darío, em "Autumnal", pedindo para a fada/musa sempre “Más...”
“Más...”, uma angústia pela experiência, pela inspiração). Mas, ainda é SP… Aquela
sensação bem distinta de andar entre o exército de executivos da Paulista e
caminhar cantando Whitney Huston e ser o contrário da borboleta da física
quântica. Não dá nem pra ouvir os próprios passos.
Gravando é também
sobre essas frases soltas que a gente ouve na rua “Apareça mais” (de “Visita”),
“Tenha cuidado” (de “O sangue”), frases que simulam o acolhimento e a
compaixão, mas na verdade são fórmulas vazias da cordialidade entre os pares.
Outros sinais da invasão simbólica da grandiloquente São
Paulo: a impossibilidade de sentir saudade (“Entre latinos”), as fantasias com
o interior (“Quermesse”), a necessidade de fugir correndo para as montanhas (“A
caminho do corpo levitante”), as conversas unilaterais (“Carta para Alcides”),
porque você só tem tempo para falar com o namorado enquanto está presa no
trânsito, dentro do ônibus com mais dezenas de pessoas que compartilham
involuntariamente da sua intimidade. Penso agora que deve ser a mesma sensação
de escrever um livro: partilhar sua intimidade com dezenas de pessoas
involuntárias. E, de repente, é aí que seu projeto estético, Aline, casa com a
minha versão de SP.
A partir dessa relação que estabeleci entre a minha leitura
radical e a projeção que eu faço do que seria o projeto do seu livro, vamos a “Este
poema foi escrito na cidade de São Paulo” – que, para mim, já começa com um
problema estrutural.
Repara: hoje as ruas parecem mais
calmas.
Não quietas, veja bem, não nesse
sentido: mas
Parece que todos desceram na
estação exata.
Impossível!!!!!(veja quantas exclamações)!!!! Enquanto
escrevo isso, neste exato momento, os metroviários estão em greve, a cidade
está no estado de armagedon para qual os paulistanos, filhos do apocalipse, já
nasceram preparados e o Sr. Governador Geraldo Alckmin já mandou avisar que
quer que todo mundo vá tomar no cu e vai, ele mesmo, passear por aí de
helicóptero, como se fosse um correspondente de guerra. SP é assim: ame-a ou
deixe-a, ninguém te quer aqui. Dessa forma, o poema na verdade descreve um
ambiente idílico, o último milagre, em que exatamente TODAS as pessoas descem
na estação “exata”. Veja bem, não é a estação “correta”, ou “desejada”, é a estação
“exata”, de uma alta precisão matemática, desenhada no google maps por
uma calculadora científica. Nem o GPS errou: você está onde você deveria estar.
Você não se perdeu na cidade e de repente ficou sem lugar pra dormir às 4 da
manhã. Não. Você está onde deveria estar. Nem você sabia pra onde ia, mas você
chegou, é ali. Ao contrário do adeus terrível de “About”, temos um “olá”
amistoso, acolhedor. É a evasão mais completa da realidade e dá a SP algo que
ela nunca teve: carinho. (Não, brincadeira, tô exagerando. Não me matem,
paulistanos.) Exatidão matemática: daí o teu desejo obsessivo pelas ruas
retilíneas (pressinto um desejo de se mudar pra Brasília).
Para você, Aline, matemática é amor. Deduz um dente em “Abertos
24 horas”, faz uma contagem regressiva pra viajar em “Não me fotografe, me
beije”, vai adicionando cigarros em “Assombração urbana”, deduz 23 anos de 30
metros quadrados em “A prece”. Toda poesia matemática lembra Trilce, um cálculo infernal, uma lógica
profana para tratar os sentimentos. Transformar experiências e sensações em
contas impossíveis, em números delirantes como o próprio trilce: mais uma possibilidade poética descoberta. Elevar a poesia
à potência zero, admitir que existe algo fora dos limites da aritmética, fora
da lógica. Admitir que existe amor.
E tem as homenagens, reais ou imaginadas por mim. Vejo “Quadrilha”
em “A queda” (de Hitler? É uma referência ao filme?).
A primeira a atirar-se foi Leandra
Logo depois Sansão e em seguida os
gêmeos.
Só que em vez de Maria amar João e sei lá mais quem, é a
Leandra e o Sansão e uma fila que se joga de um prédio. O suicídio surreal
corta a casa – novamente essa ideia de lar desfeito, de solidão absoluta, de
falta de origem, de exílio em si.
Antes, porém, cortaram os fios de
eletricidade
Cortaram todos os fios de todos os
eletrodomésticos
cortaram os cabelos uns dos outros
desfiaram a colcha de Penélope
romperam a ponta do novelo de
Teseu
passaram gilete nos pelos pubianos
e decoraram a biografia de Rimbaud
Os fios de eletricidade (que decapitariam os corpos em queda
livre), os fios dos eletrodomésticos (o rompimento da harmonia doméstica) (como
o Ian Curtis, pendurado na corda do varal, esperando ser encontrado pela esposa
traída e pela filha neném), cortando os cabelos uns dos outros (um ritual de
esterilização e impotência, afinal um deles chama Sansão), a gilete (o clássico
suicida, como Guerra e Paz), Penélope
e Teseu (das aulas de literatura clássica que agora jazem no mais profundo e
inacessível do meu cérebro) e decorar Rimbaud como quem precisa fazer um curso
introdutório para deixar-se cair do prédio. Deste poema, o mais estranho verso é
“a parte mais triste era a volta”, como se fosse um ensaio de queda, ou como
(para usar a metáfora que o livro oferece) fosse um vídeo visto de trás para
frente, freneticamente, um suicídio ao contrário, “num ritual de Ícaro”.
Ainda
no assunto das homenagens, em “Córdoba”
Quando chega a noite, sento em
minha cama a observar as intimidades [vizinhas
mas não há ninguém, apenas uma luz
amarelada de um abajur do [século XIX.
Imagino que a velha senhora
(por que velha, meu deus? Existem
também freiras jovens, joviais)
esteja lendo um dos livros
proibidos pela Inquisição.
para mim, é uma celebração do Grupo XIX de teatro, encenando
grandes sucessos oitocentistas pelas ruas de SP, fazendo convergir o
finissecular e o contemporâneo a ponto de você questionar seu tempo-espaço.
Também é uma homenagem que eu faço ao meu vizinho do 9º andar.
Outra homenagem é uma previsão bizarra da morte de Gabriel
García Márquez, em “Sobre a versificação”. Não sei o que dizer sobre poetas com
habilidades paranormais.
E, finalmente, em “Lentes”
A sua fotografia me olha
com olhos que adivinham
minha imagem
Eu vejo a sua fotografia
e vejo meu reflexo
nos óculos escuros
uma homenagem a Ana
Cristina Cesar e seus óculos escuros estampados para sempre na capa rosa choque
da Companhia das Letras (John Hughes?).
Na verdade, acho que é próprio de
fotografias de escritores o fato de nos perseguirem da capa do livro para a
vida real. Já escrevi, em outro lugar, sobre os pesadelos que tive com oRoberto Bolaño, magrelo e doente, seus olhos fixos em mim pra onde quer que eu
fosse. A fumaça do seu cigarro tomando o ambiente, embaçando os contornos dos
livros no stand. Esses são “os olhos que adivinham/minha imagem”, os olhos mais
poderosos esses dos nossos ídolos mortos.
Poderia escrever sobre a metáfora sugerida pelo projeto
gráfico do livro, uma relação entre a linguagem da Aline e o kitsch, o cinema – que no final é essa
vida vivida pelos olhos dos outros, simulada, nunca experimentada. Que no final
é nosso desejo de ficar em casa, assistindo The
Apartment pela décima quarta vez, em vez de nos jogarmos na rua,
conhecermos gente potencialmente idiota com uma tatuagem do Corinthians,
descermos na estação errada e talvez de repente ficarmos sozinhos na rua às 4
da manhã sem ter um lugar pra dormir. Esse é o contraste mais importante, a
saber, as experiências ativas que os poemas sugerem e a concepção do livro em
torno de um ambiente simulado. Mas não vou falar sobre isso porque não sou
obrigada (“Eu não sou obrigada”).
A arte de escrever resenhas e prefácios é isso: a arte de discorrer
sobre um livro fingindo que foi você quem o escreveu.